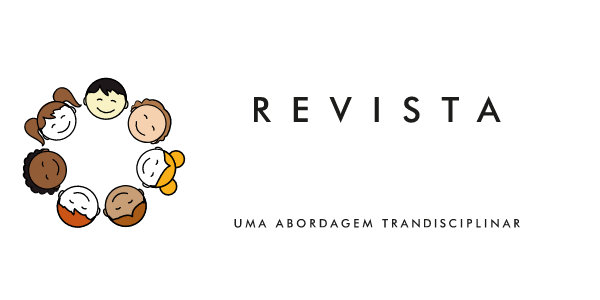Faz alguns anos recebi no CERCCA – Centro de Referência para o Cuidado de Crianças, Adolescentes e suas famílias em situação de violência, serviço ligado a Secretaria de Saúde da cidade de Recife/PE) um rapazinho de 9 anos que, ao entrar no ambulatório, assim que fechou a porta, antes mesmo de qualquer apresentação, olhou para mim e perguntou: “Tio, eu vou ser frango?”. Atônito com essa questão logo em nosso primeiro encontro, sem saber ao certo o que lhe responder, resolvi pegar-lhe a mão, suspendê-la e fazê-lo girar em seu próprio eixo examinando-o. Disse-lhe: “Não estou vendo nenhuma pena nascer aí!”. O garoto me olhou com ar de reprovação, quase pude ler seu pensamento me chamando de “idiota”, mas resolveu explicar: “Não tio! Frango… frango! Baitola, bicha, viado,…”. Assim, saiu elencando diversas formas de explicitar o que queria dizer, para que o “idiota” aqui pudesse entender. Ao que lhe devolvi: “Ah! Você quer saber se vai namorar meninos ou meninas? Não sei! Você tem alguma ideia? Você é tão novo, tem tanta coisa para descobrir e inventar! Façamos assim, o que você for descobrindo e inventando, você vai me dizendo! É exatamente para isso que estou aqui, para te ouvir falar tudo, como quiser, quando quiser e se quiser!”.
Esta experiência me fez pensar sobre o universo simbólico que insidia sobre a criança naquele momento, em função do que lhe diziam e como lhe tratavam a partir do episódio de violência sexual que havia vivido. Todos tem algo a dizer, pais e/ou responsáveis, parentes, vizinhos, professores, médicos, assistentes sociais, advogados, conselheiros tutelares, psicólogos,… discursos marcados por convicções particulares, senso comum, passando por estatísticas e conhecimento científico, além dos nossos valores morais, sociais e religiosos, todos impregnados de história e cultura, que em nosso caso traz as marcas de um passado tão presente de colonialismo, escravismo, patriarcado e machismo, construindo uma compreensão de propriedade privada bastante deturpada, na qual homens chegam a achar que mulheres são propriedade dos maridos, adultos a achar que crianças são propriedade dos pais. Um conjunto de significantes, de palavras e modos de se relacionar a que o psicanalista francês Jacques Lacan chamou de “subjetividade de uma época”. Mas se todos tem algo a dizer, nem todos estão dispostos a ouvir. O que a criança pode construir a partir deste universo que pesa sobre ela? Dão-lhe a possibilidade de escapar destes dizeres que constroem a respeito dela e de sua experiência? Ou seja, relacionar-se com a criança a partir de saberes pré-concebidos, convicções e valores já instituídos parecem reproduzir a mesma dinâmica de quem a estuprou, objetificando-a.
O Lugar de quem escuta
É possível afirmar que em um serviço destinado ao cuidado de crianças que passam por alguma situação de violência, não se escute nenhuma criança vítima de violência, escuta-se “João”, “Maria”, “Pedro”, “José”, “Ana”,… Ou seja, cada criança em sua história particular, estrutura de relações próprias (pais e/ou responsáveis, família, comunidade), na qual a experiência de violência vai ser vivida e elaborada de modo singular, questionando os estereótipos criados sobre ela.
Na época, foi possível notar na preocupação daquele menino, discursos comuns, banalidades difundidas: “criança vítima de violência se tornará agressor no futuro”, “menino vítima de violência sexual se tornará homossexual no futuro” ou “menina vítima de violência sexual se tornará frígida”. Por mais que ele nunca tivesse escutado estas frases, pareceu pairar no que diz. Seu receio também pareceu advir da impressão de que ser homossexual deve ser ruim. O que, se considerarmos o contexto de intolerância e preconceito em que ainda vivemos, não está de todo equivocado (basta atentarmos para os dados alarmantes de crimes de homofobia no país). Mas esta compreensão, apesar de importante para a compreensão do que é dito, não pode servir de norte para a relação que ali começávamos a estabelecer, pois se assim o fizermos, compactuamos com os sentidos que objetificam a criança, seja em função das demandas daqueles que o trouxeram, seja dos sentidos que o garoto reproduzia. O que tornaria mais um a dizer sobre a criança, dizer para a criança e não ouvir o que ela tem a dizer. Desta forma, o lugar da escuta clínica é um lugar estrangeiro aos sentidos habitualmente compartilhados, é o lugar da dúvida e do não entendimento. Assim, deixar cair, fazer escorregar, todos os sentidos cristalizados que pesam sobre a criança, para quebrá-los, desmontá-los e permitir a abertura de um espaço onde a criança possa brincar com todos estes significantes, como uma bricolagem de si. Assumindo um jogo com palavras e discursos, desmontados e remontados, apropriando ou descartando, oferecendo ou pedindo emprestado.
O lugar do sujeito para além da criança.
A escuta clínica, não pode estar atrelada a uma atuação de policiamento e disciplina das crianças. Sobretudo quando eticamente propomos não considerar nem a criança, muito menos vítima (estereótipos e estigmas criados em torno destes conceitos), e escutamos sujeitos: este campo da experiência humana que escapa a constituição consciente do indivíduo, o limite que aponta para a impossibilidade da construção de ser (todo “eu sou” está fissurado pela abertura, lacuna, não saber que age sobre nós, que em psicanálise nomeamos como sujeito). E é considerando este aspecto na relação que estabelecemos, para quem disponibilizamos nossa escuta (aqui especificamente, alguém que muito pequeno passa por uma situação de violência sexual), que possibilitamos ressignificações, rememorações, reconstruções e invenções.
A criança, considerada enquanto sujeito, é difícil de ver, pois goza de uma indiferença, de um repúdio, um horror, próprio de quem já foi criança e guarda as marcas do que viveu em sua infância. Adultecemos reprimindo experiências difíceis infantis que o contato com uma criança pode trazer a tona. A psicanalista francesa Françoise Dolto nos lembra de que:
“[…] nós, em nossos primeiros anos, não fomos o que projetamos mais tarde. E nós não podemos jamais ser totalmente verídicos com relação ao que vivemos na infância. Já que nós nos traímos, como respeitaríamos a subjetividade de outras crianças? Esta anulação do outro, no caso de uma criança, é inelutável por um adulto. E isto faz parte da repressão dos efeitos daquele período em nós, adultos”. (DOLTO, 1997, pp. 41)
E para nos defender criamos a Criança, com C maiúsculo, uma entidade abstrata que serve para mascarar o sujeito e sua diferença, escamotear uma impossibilidade de apreensão da experiência do outro, como lembra Dolto:
“O campo imaginário da infância é absolutamente incompatível com o campo da racionalidade através do qual o adulto assume sua responsabilidade pela criança. Testemunhar autenticamente, sem projeção do narrador, sem repetição de clichês, sem referências a um modelo social, e fora de toda moral ou de toda psicologia, e sem tentar fazer poesia, é, no limite, ‘intraduzível’ por um adulto”. (DOLTO, 1997, pp. 42).
Escutar-se para ouvir.
Somado a este funcionamento, ainda sobrevém a questão do aspecto impensável da violência sexual, principal demanda para atendimento no CERCCA. O psicanalista Maurice Berger, do Hospital de St Etiene defende que:
“aproximar-se da existência de um abuso sexual é traumático para os profissionais. De certa maneira, pensar sobre maus-tratos é mais suportável, pois estes últimos estão menos impregnados de prazer do que a violência sexual. Espancar, ou mesmo matar, em um momento de descontrole é considerado, mais frequentemente, como menos perverso do que o abuso sexual. Quando trabalhamos atendendo e acolhendo famílias, constatamos que elas suportam melhor a criança violenta do que a criança que sexualiza suas relações. Trata-se de um dos motivos importantes de ruptura dos investimentos familiares”. (BERGER, 2007, pp. 213)
Berger ainda defende que é difícil de manter uma identificação com a vítima de abuso sexual, posto que existiria em cada um de nós um “mini-negacionista” que se censura diante de qualquer coisa intolerável que a realidade nos apresenta. E esta tentativa de esconder de nosso espírito os pensamentos que provocam muito desprazer, tensão ou incômodo, princípio fundamental do funcionamento psíquico descrito por Sigmund Freud, nos leva a pensar porque negamos a realidade das violências sexuais, chegando a operar inversões e afirmar coisas como: “foi violentada por que quis, procurou”; “é fogosa, usando este shortinho, só pode estar querendo”. Além disso, as artimanhas discursivas do adulto costumam o afastar da responsabilidade de seu ato, jogando para a criança o sentimento de culpa do adulto e que merece punição. Negações e inversões que também servem para mascarar o que psicanalista Sandor Ferenczi (1933) dizia, em sua obra “Confusão de língua entre os adultos e a criança”. Este escutador defendia que os mais velhos podem distorcer a demanda de carinho de uma criança, transformando-a em um ato sexual com o objetivo de satisfazer seus impulsos. Impondo assim, para criança, um amor diferente daquele desejado por esta. Ou seja, a criança está no direito de explorar o mundo e suas relações, e o faz por meio de um uso ainda pouco elaborado dos códigos sociais adultos, do seu corpo e das brincadeiras, assim questionando e construindo quem é, quem são os outros, que lugar ocupa nas relações e como estas funcionam. Isto é sexualidade! E devem receber como resposta, ternura socialização, e não perversão.
Não foi à toa que Freud causou um escarcéu e revolta em sua época quando afirmou que as crianças tinham pensamentos sexuais direcionados a seus pais, mas também não podemos negligenciar o que Maurice Berger chama de “um escândalo ainda maior”: os adultos podem ter pensamentos sexuais direcionados a suas crianças. Desejos cotidianamente reprimidos nas relações com as mesmas, quer seja num singelo colo de uma mãe ou num abraço de um pai, por exemplo.
Diante destas breves considerações, universo simbólico que monta a subjetividade da época, consideração da criança enquanto sujeito e as dificuldades do adulto para ouvir as crianças, proponho para quem deseja enveredar pelo cuidado, pela clínica, diante do fenômeno da violência contra crianças, um trabalho pessoal de terapia ou análise, que exige uma destituição de si, um confronto com a experiência de não ser (conhecendo e relativizando seus valores, convicções e modos de relação) ou ser rebotalho, resto, para poder ser usado como ferramenta nas elaborações do sujeito a quem se escuta. Revelando no processo de falar, de sua própria dor, a possibilidade de se inventar enquanto cuida-dor, escuta-dor!


João Villacorta
Graduado em Psicologia, Mestre em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é psicólogo e coordenador do Centro de Referência para o Cuidado de Crianças, Adolescentes e suas famílias em situação de violência (CERCCA-Recife). Tem experiência e especialização na área de Psicologia Clínica, Direitos Humanos, além de estar comprometido permanentemente com a formação psicanalítica. É membro do Traço Freudiano Veredas Lacanianas Escola de Psicanálise.
Referências bibliográficas:
BERGER, M. Réflexions sur lês difficultés de prise en charge des abuseurs sexuels. In : Proctetion de l’enfance : L’enfant oublié. Bruxelles : Ministère de la Communauté Française, 2007.
DOLTO, F. La cause dês enfants. Paris : Édition Robert Laffont, 1997.
FERENCZY, S. Confusion de langue entre les adultes et l’enfant. In : Ed. Psychanalise 4. Paris: Payot, 1982. (Oeuvre originale publié em 1933)
FREUD, S. Fragmento da análise de um caso de histeria. In: FREUD, S. Edição standard brasileira das obras completas de Sigmund Freud vol. 7. Rio de Janeiro: Imago, 1989. (Trabalho original publicado em 1905).